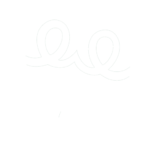Foi no aeroporto que conheci uma senhora chilena desbravando terras neozelandesas. Ela queria visitar a neta, pensou que mais tarde poderia ser muito tarde – acontece nas melhores famílias – e embarcou sozinha, do Chile à Nova Zelândia, em uma viagem de doze horas de avião. Seus olhos tristes não se comunicavam muito bem com o blazer amarelo da moça que a acompanhava. Fiquei observando… E quem diria? Os olhos tristes sempre têm boas histórias para contar.
A moça-do-blazer-amarelo empenhava-se em explicar, em inglês, onde a senhora-de-olhos-tristes deveria fazer o check-in, preencher a declaração e afins. “Ela vai para o Chile, certo?”, perguntei. A garota saltou: “SIM! Você fala espanhol?”. “Sim. Quer dizer… Não. Mas eu entendo! Vamos juntas!”, respondi. E lá estava eu, acompanhada de uma desconhecida que, depois de ouvir um arriscado “no puedo hablar, pero te entiendo”, desabafou pelas 2 horas que antecederiam o embarque. Fizemos o check-in e precisávamos andar. A senhora estava com uma perna machucada e a voz da minha mãe dizendo “vê se não inventa de carregar a mala dos outros” ecoava na minha alma. E se fosse uma traficante de drogas? E se os conflitos linguísticos no meio do aeroporto fossem uma estratégia para comover e atrair netos com saudades de suas avós? E se a perna machucada fosse a melhor desculpa para que EU carregasse a mala?
As preocupações perderam a importância à medida que os detalhes me convenceram. Um passeio para uma ilha próxima era um dos planos da neta com a avó, mas, com o visto vencido, a jovem não conseguiu retornar à Nova Zelândia. As duas ficaram presas na imigração e a senhora precisou voltar sozinha para a casa da mulher-do-blazer, onde permaneceu sem ninguém que pudesse entendê-la. Mais tarde, ainda no aeroporto, outra situação desconfortável: “Como assim está apitando o detector de metais? Ela já tirou tudo!”, eu insisti. Quando deixaram-na passar, confessou que carregada um terço de ouro escondido no sutiã. Eles poderiam até prendê-la, mas não conseguiriam se apropriar, nem por um segundo, de sua força.
Nós somos a soma – nem sempre positiva – das pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu gosto de pensar que são elas que me encontram, pois isso me faz crer que não há uma atitude precavida ou impulsiva, certa ou errada: há o necessário a se fazer. Todas as manhãs, quando eu atravesso a Rua Olavo Bilac, torço para reencontrar uma outra senhora – essa com olhos de esperança – que observa o neto enquanto ele atravessa a rua em direção à escola. “Mas de que adianta se ela está a quase 10 metros de distância? É impossível evitar um acidente”. Eu, ao lado dele, na única vez em que dividimos a calçada, decidi intervir: “Espera! Ainda não!” (…) “Tá, agora vamos!”. Atravessamos a rua correndo, como as crianças e os atrasados (quem é quem?) costumam atravessar. Isso não é sobre intrometer-se, eu sei que a avó não me culparia: permitir que o menino ande sozinho é “o necessário a se fazer”, mas a torcida sempre será para que as pessoas que amamos encontrem alicerces no percurso.
Um par de olhos de alegria esperou por mim no desembarque – a senhora chilena estava lá. Há um encanto que insistentemente permeia o desconhecido: os melhores encontros da minha vida são os que eu não sei o nome dos encontrados, mas lembro-me do olhar. Em tempos como estes, o “ouvir” ensina que o “falar” pode nos cegar. O Caminho do Meio, descoberto por Buda, diz que a paz da mente, a sabedoria mais elevada e a iluminação plena encontram quem rejeita os extremos: “meu coração mantém-se no caminho do meio”. É no entre que nos reconhecemos – mais como ouvintes do que como locutores, descobrindo que a vida, para além do “e se?”, é sobre “o necessário a se fazer”. É preciso atravessar, seja para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua. E embora seja impossível evitar um acidente a distância, o otimismo de quem confia que a travessia será pacífica é o que eu, enfim, chamo de “fé”: uma força que ninguém consegue se apropriar. Quando a empatia atinge o desconhecido – “no puedo hablar, pero te entiendo”, a cegueira se perde no Caminho do Meio.
se a humanidade falasse uma única língua
para que serviriam os olhares?
se a magia, o calor e o equilíbrio estivessem na fala
para que serviriam os malabares?
se bebês e adultos
falassem a mesma língua
para que serviria o choro?
se a paz é o silêncio
a guerra não é o coro?
se todos os mochileiros falassem a mesma língua
para que serviriam os gestos?
estender a mão pode significar:
vem comigo
você está bem?, ou,
eu te empresto!
mais do que voz ou escrita
sorriso é manifesto
em todos os lugares do mundo
!estenda a sua mão!
o resto é só o resto…
só aprendemos a sentir
porque, em algum momento da vida,
não conseguimos falar.
como crianças
como doentes em uma cama de hospital
ou,
simplesmente,
como estrangeiros.
– a fala é o meio
a vibração: o passageiro –
quero aprender a ver
a sentir
e a passar adiante
quem cala é o amor
quem grita é o amante
sigo a minha rota
vendo o amor como um instante
existe uma língua universal:
um sorriso é o bastante.
pedra, ponte, travessia ou buraco
melhor o barco que vira
ao que permanece atado
há mais vida e morte nas ruas
do que em hospitais e cemitérios
o desconhecido não é o perigo
o desconhecido é só o mistério
o amor acontece
aos que caminham sem mapa
façam suas reconciliações
não esperem pelo Papa
ciclos, trocas, energias e abraços:
deixe o seu melhor para alguém
só existe amor e verdade nos atos que não te convém
o que há de mais vivo
intenso
e contraditório
está na próxima esquina
criar raiz é fazer história
viajar é fazer rima.
Manuela Fantinel
(Crônica, poema e foto)