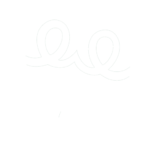Na última quinta-feira de setembro, dia 28, uma mulher de 47 anos saiu do cinema, em um shopping de Brasília, abraçada à sua filha, de 20, quando um homem enfurecido se aproximou das duas e passou a agredi-las com sopapos e insultos. Na delegacia, para onde foi levado depois do ataque, o homem explicou que “pensou que mãe e filha fossem um casal de lésbicas”, o que, para ele, justificaria o espancamento. Ou seja, pelo raciocínio (?) do sujeito, alguém que pareça gay merece ser surrado. E pronto. Longe de ser um episódio isolado, esse “pensamento” justificador da violência representa a percepção cristalizada em uma parcela cada vez maior da sociedade brasileira de que existe um conceito de mundo e da vida em geral – incluindo aí moral, ideologia e sexualidade – que deve ser imposto a todos, sem questionamento, porque corresponderia ao que é certo. Quem não se enquadra nisso está errado e deve ser eliminado na base da porrada.
A ideia absurda de que só é possível viver em comunidade a partir da imposição de um comportamento único, de que o diálogo só é válido entre iguais e de que todo dissenso é ilegítimo tem uma base retórica centrada no uso da violência. Se só há uma cartilha de conduta a ser seguida por todos, sem exceção, caso alguém a conteste e a descumpra deve ser agredido até aderir, ou então deixa de ser merecedor até da própria existência. Esse discurso, que prega a extinção do dissenso pelo uso da força, ganha guarida até mesmo nos espaços tradicionalmente destinados ao debate, ao pluralismo e à discordância, como é caso do plenário do Congresso Nacional.
Na terça-feira passada, dia 03, dois deputados federais defenderam o espancamento e a tortura em outros deputados que discordarem deles e no coreógrafo Wagner Schwartz, protagonista da abertura da exposição “Brasil em Multiplicação”, em que seu corpo nu pôde ser tocado pelo público, em uma interpretação da obra “Bicho”, de Lygia Clark, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Durante a performance, uma menina foi incentivada pela mãe a interagir com o artista. Agachada, a criança se aproximou dele e tocou na sua perna e na sua mão.
Em seu discurso sobre o tema, o deputado João Rodrigues (PSD/SC), ameaçou os próprios colegas: “Não consigo acreditar que tenha algum pilantra, algum vagabundo dentro dessa Casa que aplauda isso, porque se tiver tem que levar porrada. Se tiver, tem que ir para o cacete para aprender. Bando de safado, bando de vagabundo, bando de traidores da moral da família brasileira.” O curioso é que esse mesmo deputado, João Rodrigues, chegou a ser flagrado vendo pornografia em seu celular, em plena votação da reforma política. Ele se justificou, à época, dizendo que não teve culpa, pois os amigos é que mandavam “muita sacanagem”.
Outro deputado, Laerte Bessa (PR/DF), foi no mesmo tom, atacando o artista: “Pergunta se ele conhece direitos humanos? Direitos humanos é um porrete de pau de guatambu que a gente usou muitos anos em delegacia de polícia. Se ele conhece rabo de tatu, que também usamos em bons tempos de delegacia de polícia. Se aquele vagabundo fosse fazer uma exposição, ia levar uma taca que ele nunca mais ia querer ser artista e nunca mais ia tomar banho pelado”. Ao confessar, e defender uma ilegalidade, o uso da tortura em delegacias, o deputado, que foi delegado de polícia em Brasília, utiliza da sua imunidade parlamentar para espargir a violência como método persuasivo para além das grades do xadrez. Esses mesmos argumentos, com essa mesma linguagem, andaram circulando em profusão pelas redes sociais, esta semana, nas discussões sobre o episódio do MAM de São Paulo.
Para quem usa argumentos desse tipo, “tem que bater”, “tem que matar”, a discussão, por óbvio, se inviabiliza, pois não há qualquer abertura nem disposição para raciocinar e elucidar conceitos. O contexto é o primeiro a ser espancado. Não importa, no caso da exposição do MAM, se o museu sinalizou com placas de alerta sobre o conteúdo da performance. Tratava-se de uma sessão fechada para convidados? Isso também não importa. A mãe da menina que interagiu com o artista é coreógrafa, habituada a esse meio? Não importa. Cada família é de um jeito, pois famílias são diferentes? Não importa. Há famílias que lidam com o nu e com a arte de maneira natural? Não importa. O que é realmente importante para os apologistas da violência é impor a única moral que lhes interessa: a deles.
A base social que torna possível esse achatamento do debate até sua inviabilidade se ampliou tanto que o deputado Jair Bolsonaro, candidato manifesto à presidência da república nas eleições de 2018, representante maior desse modo de pensar (?), tem hoje, dependendo do cenário, de 20 a 30 milhões de votos em potencial. Bolsonaro é autor de algumas inacreditáveis declarações públicas: “o erro da ditadura foi torturar e não matar”, “mulher deve ganhar salário menor porque engravida”, “não vou bater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater”.
Acontece que esse Brasil de Bolsonaro, que se vê no espelho distribuindo sopapos, não resiste à mediação do intelecto. Contra os punhos, as palavras. Forçar uma personalidade facistoide a discutir, debater e confrontar argumentos é desconcertá-la e esvazia-la de sentido. Recuperar o debate, essência da política, é um compromisso radicalmente democrático, um dever cidadão de todos os que desejam tornar viável a vida em comunidade, com toda a beleza deste país diverso e multicultural.
Marcelo Canellas.
Foto de Renan Mattos.